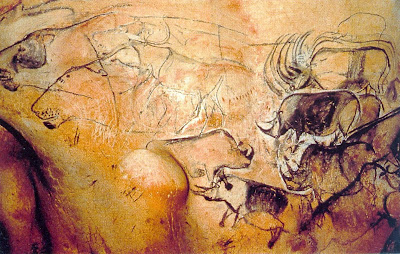O fazer inventariante de Werner Herzog em A caverna dos sonhos esquecidos não me parece tão distante daquele empregado por Jean-Luc Godard em sua própria arqueologia da imagem, cuja marca maior na minha memória são suas pontuadoras Histórias do Cinema. Há o desejo de encarar um espírito perene que atravessa a história e inscreve seus rastros em sua matéria - paredes de gruta, negativos e positivos, écrans, VHS, HDs -, bem como a consciência da planaridade das superfícies de projeção, a urgência de que se filme a própria tela e o uso artificioso das tecnologias que, feitas como armadilha, vestem saias justas na ideia de que o cinema está edificado como testemunho definitivo.
Godard, de um lado, provoca o testamento de imagens agora tornadas perecíveis, finitas. Até onde vai a história?, questiona, provavelmente a ser desta forma bastante culpado pela paranóia de um certo fim do cinema que o estocou em videolocadoras e assombrou os anos 1980. Herzog, de outro lado, partilha de um espaço-tempo crente no revigoramento da imagem como artefato maior. Num tempo de cinema de afetos, ele vem reiterar a necessidade de que a imagem, através da história, reencontre o homem, e nele se abrigue, para assim permanecer e se prolongar em nós.
9.7.13
8.7.13
Usar o 3D para filmar o plano
A caverna dos sonhos esquecidos (Werner Herzog, Canadá/EUA/França/Alemanha/Reino Unido, 2010)
Ao usar o 3D em A
caverna dos sonhos esquecidos, Werner Herzog parece ostentar com um grito a
consciência de nosso deslize ocular: o olho teima em acreditar que o écran, que
exibe filmes – ou quadros –, deixa-se contaminar pela profundidade. Quando é,
na verdade, tomado por superfície.
Se o
cineasta inventa este filme para descobrir um certo tipo de tela, no caso as
pinturas rupestres encontradas por arqueólogos na Caverna de Chauvet, França, procede
com a subversão desta noção comum, especialmente quando atrelada ao uso do 3D:
não, o cinema não é um território de infinitos em perspectiva, nos diz, mas da
composição de texturas, impressas pelos desenhos da luz.
Em A caverna..., a tridimensionalidade própria destas telas
paleolíticas, que tinham em sua matéria as ofertas e limites estéticos das
paredes acidentadas da gruta, ganha de fato uma perspectiva tátil, uma vez que
a reprodução da experiência de contemplação, instituída numa galeria asfixiada
por estalactites, é transportada com relevo ótico similar ao da presença sem câmeras.
O olho, percebe-se portanto, não busca os corpos que se movem pelo campo aberto
pela lente, mas as bordas bidimensionais da imagem, onde as pinturas são
investigadas. É como se os quadros de cinema tivessem paredes – e a câmera
resolvesse filmá-las, em vez do campo aberto à ação dos corpos.
Surge, neste sentido, a
ressonância de um espírito modernista que, com o artifício quase sempre cego do
3D, grifa a fatal planaridade da imagem, deixando entrever seu próprio
artifício canastrão de subvertê-la e atingir um estado de permanência efetiva
no mundo filmado. Como se não fosse, pois então, um mero écran.
Neste apego às bordas destes
quadros emparedados, Herzog nos incita, pela imagem mas também com o auxílio de
um off cheiroso a filosofias platônicas, a distender nossa experiência pelo
espaço-tempo. E este é o seu segundo e maior grande truque: devemos agora
desconsiderar o 3D e nos transportar para o espírito dramático condensado nas
próprias pinturas rupestres. A visão desta imagens arcaicas e tão mirradinhas
perto do circo que é ver as estalactites quase nos tocarem é, embora estática
enquanto matéria, também fluida, narrativa e dramatúrgica se o cinema é algo
que transcorre no campo fabulante da mente. Se o fora de campo encenado puder existir
naquilo que é afetivo, que nos faz históricos e humanos.
É curioso que um dos arqueólogos
entrevistados revele ter, ele mesmo, trabalhado no circo antes de virar
cientista. Não só o 3D é um brinquedo circense como também o é o jogo de luzes
e sombras empreendido pelas lanternas da equipe de filmagem no interior da caverna, que simulam lá o
mesmo movimento do fogo pré-histórico dentro da imensidão escura, a encadear e
emprestar movimentos ilusionistas àqueles rabiscos de leão e urso. Bem como é
circense, enfim, a noção de cinema de atrações que representa o achado
arqueológico primeiro do próprio cinema, uma arte de feira cujo passo último
capitalizou o fetichismo das três dimensões.
A despeito de tantas nostalgias
atravessadas pela história do homem e da imagem e de seu emprego como
artifícios, Herzog parece crer enfim na precedência de um espírito nobre, cuja imaginação,
capaz de viajar pelos seus próprios afetos, tem corpo para desbravar a presença
em outros espaços e em outros tempos, seja através de foras de campo, paredes
de quadro, paredes da história.
Assinar:
Postagens (Atom)